Professora defende diálogo entre culturas para solucionar impasse causado por infanticídio
Em setembro de 2005, a antropóloga e professora da UFABC Ana Keila Pinezi viu-se diante de um cipoal jurídico-antropológico de intrincada resolução. Ela foi convidada a elaborar um parecer a respeito do caso da índia Sumawani, que fora condenada à morte por sua etnia, os Suruwahá, por ter nascido com traços de pseudo-hermafrodismo.
Como pano de fundo para a resolução do imbróglio estava a antiga oposição entre defensores radicais do relativismo cultural e os militantes do direito à vida como valor universal. A discussão redundaria na volta imediata de Sumawani à sua tribo, apesar do risco de assassinato, ou a sua ida à sala cirúrgica, mesmo com a possibilidade de ser tachada como imposição do homem branco sobre um grupo social minoritário.
"Era uma questão sem uma resposta certeira e definitiva. Uma relação dialógica, que possibilite negociação e argumentação, parece ser a saída possível. É fato que não é possível deixar de lado os valores locais, particulares de um povo. É preciso ver os direitos humanos, também fruto de uma elaboração particular, de grupos ocidentais pós-guerra que se reuniram para pensar os direitos do homem, como uma instância que possibilite o bem-estar do ser humano e não como uma imposição. Isso seria, aliás, algo contraditório e etnocêntrico", diz a antropóloga a respeito da controvérsia.
A contenda não chegou a um termo nos tribunais. A pressão popular encarregou-se de arrefecer os ânimos dos grupos indigenistas favoráveis à não-intervenção. Sumawani foi operada e voltou à sua aldeia. A polêmica, no entanto, permanece num limbo jurídico para um conflito que suscita questionamentos éticos de ambos os lados: deve o Estado brasileiro intervir em comunidades indígenas para evitar o assassinato de crianças consideradas prenúncios de maldição à tribo?
"Durante décadas foi culturalmente aceita a agressão de mulheres por homens em nossa sociedade. Hoje isso mudou. Exemplos similares não podem acontecer em outras culturas? Claro que nesse processo não pode estar embutida a noção de supremacia cultural. Mas o direito à diferença não deve ser transformado em obrigação de diferença", argumenta Keila.
Atualmente, em pelo menos 20 etnias do território nacional, crianças consideradas ilegítimas, gêmeos e deficientes são mortos logo após o nascimento. Embora o direito à vida seja assegurado pela Constituição, certas correntes antropológicas defendem a autonomia absoluta das comunidades indígenas em relação às leis brasileiras. Segundo essa linha de pensamento, o enquadramento dos índios na legislação nacional configuraria intromissão no livre-arbítrio de suas etnias. No campo de discussão oposto encontram-se aqueles que preferem enfatizar o direito à vida como valor universal independentemente das tradições locais, sem a conotação de imposição cultural.
Nesse contexto, o diálogo interétnico emerge como único ponto capaz de apaziguar o debate entre relativistas e universalistas. Isso pode ser visto em um caso paradigmático da antropologia brasileira ocorrido em 1957. Nessa época, os índios Tapirapé matavam o quarto filho imediatamente após nascimento. O infanticídio era uma forma de controle populacional da tribo que evitava o esgotamento dos recursos naturais à disposição da comunidade.
Chocadas com a prática e frustradas com a ineficácia de suas intervenções a favor do respeito à vida, missionárias passaram a defender o abandono da tradição utilizando a lógica local. Como a aldeia na época estava reduzida apenas a 54 membros, não fazia sentido, diziam, a perpetuação de assassinatos que punham em risco a própria existência da etnia. O argumento, segundo relata o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira, foi aceito.
A busca de saídas negociadas que não impliquem agressões a valores de culturas com tradições conflitantes podem, segundo Keila, apontar para soluções não só na discussão da prática do infanticídio como também nas recentes polêmicas levantadas pela homologação da reserva Raposa Serra do Sol.
"O Estado brasileiro mostra dificuldade em lidar com o direito à terra dos indígenas e outros interesses de fundo capitalista. Em ambos os casos [infanticídio e reservas], os indígenas aparecem como o ‘outro' em uma sociedade marcada por desigualdades sociais e injustiças", afirma.
Assessoria de Comunicação e Imprensa
UFABC
01/07/2008
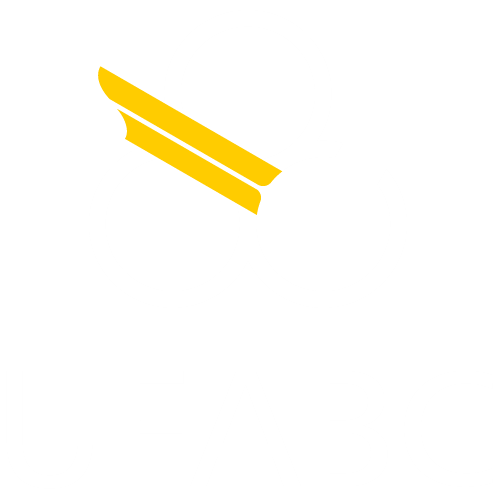
Redes Sociais